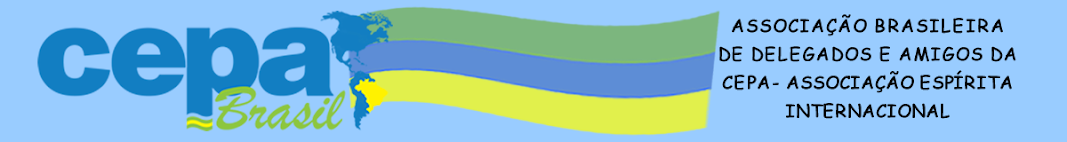Bruno Lins Quintanilha, 35 anos, professor de Geografia no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro.
Atua na Casa Espírita Eurípedes Barsanulfo, autor do livro “O que é o Espiritismo? Uma tentativa de resposta para o século XXI” e de diversos artigos publicados regularmente em periódicos em periódicos espíritas. No link a seguir, é possível encontrar toda a produção do autor de forma gratuita: https://linktr.ee/brunoquintanilha
O Espiritismo conforme construído por Allan Kardec é um grande instrumento de esclarecimento, consolo e esperança. Entretanto, cabe apontar que não é uma obra pronta e muito menos perfeita[1]. Assim aliás enxergava o seu próprio construtor:
O Livro dos
Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo; não faz senão apresentar as
bases e os pontos fundamentais, que se devem desenvolver sucessivamente pelo
estudo e pela observação.[2]
Em outra obra, e em outro ano, o mesmo princípio é reafirmado:
Pensam muitas pessoas, ademais, que O livro dos
espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofia. É
um erro.[3]
Prossegue em seu último livro:
O Espiritismo,
pois, estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente
demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Entendendo-se com
todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias
descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer
ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e
abandonado o domínio da utopia, sem o que o Espiritismo se suicidaria. Deixando de ser o que é,
mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o
progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas
lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria
nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará.[4]
Se do ponto de vista intelectual, o
Espiritismo kardequiano foi abertura, curiosidade, refazer e pesquisa constantes,
do ponto de vista moral ele é a busca incessante pelo bem-estar humano, seja a
nível individual ou coletivo:
Coloco em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no abismo do crime.[5]
Por sua poderosa revelação, o Espiritismo ve, pois, apressar a reforma social (6)
[1]
Allan Kardec, em Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec, Discursos
Pronunciados nas Reuniões Gerais dos Espíritas de Lyon e Bordeaux, III parte.
Seu fundador
insistia teimosamente na importância da caridade, ou seja, do amor em
movimento. Amor que pode assumir as mais variadas formas e ações possíveis, mas
todas elas sempre alicerçadas no desejo do bem-estar do outro, no respeito, no
acolhimento, na solidariedade:
Sem a
caridade, não há instituição humana estável; e não pode haver caridade nem
fraternidade possíveis, na verdadeira acepção da palavra, sem a crença.
Aplicai-vos, pois a desenvolver esses sentimentos que, engrandecendo-se,
destruirão o egoísmo que vos mata. Quando a caridade tiver penetrado as massas,
quando se tiver transformado na fé, na religião da maioria, então vossas
instituições se tornarão melhores pela força mesma das coisas; os abusos,
oriundos do personalismo, desaparecerão. Ensinai, pois, a caridade e,
sobretudo, pregai pelo exemplo: é a âncora de salvação da sociedade. Só ela
pode realizar o reino do bem na Terra, que é o reino de Deus; sem ela, o que
quer que façais, só criareis utopias, das quais só vos resultarão decepções.[7]
Resumidamente, o que busco deixar
explícito é o cerne intelectual e moral do Espiritismo na proposta Kardequiana.
É óbvio que enquanto um sistema de
ideias e valores construído por um homem branco, de classe média, na Europa do
século XIX, o Espiritismo kardequiano tem problemas e limitações. A sociedade
daquele tempo-espaço era infinitamente mais limitada do que o é a nossa
atualmente. Incontáveis avanços intelectuais, técnicos, culturais e jurídicos
ocorreram entre as décadas de 1850/1860 e o século XXI. Nenhuma ideia jamais
deve ser descontextualizada de onde e quando surgiu. Tudo precisa ser entendido
dentro de um contexto e, posteriormente, analisado e criticado.
Além do mais, dessacralizar e
humanizar indivíduos e obras é fundamental, pois encarar toda obra como produto
de um ser humano que tem limites e lacunas – mas também talentos e potenciais –
nos permite aproveitar o que há de bom e filtrar o que não seja razoável. É
preciso separar a casca, que tem muito do contexto sociocultural de um determinado
tempo-espaço do fruto, que é ainda válido e extremamente rico de possibilidades
e utilidade.
Em outra
ponta, não podemos esquecer que conforme as ideias são propagadas por
diferentes lugares e pessoas ao longo do tempo, elas irão, inevitavelmente,
sofrer modificações, adaptações, reapropriações. Uma ideia gestada na França de
1850, quando chegar ao Brasil de 1880 irá passar por um filtro sociocultural
que a transformará. E de 1880 até os anos 2000, mais camadas irão se sobrepor. E
não há nada de estranho nisso do ponto de vista sociológico. Isso é, na
realidade, esperado, e ocorre com todas as religiões, doutrinas ou filosofias.
Do ponto de
vista da Antropologia e da Sociologia, podemos afirmar que há cristianismos,
islamismos, judaísmos, espiritismos, ou seja, uma mesma religião ou doutrina
vai desenvolver inúmeras variações internas conforme se difunde, muita embora
vá manter alguns elementos que dão algum tipo de unidade dentro dessa
diversidade que naturalmente se forma.
Apesar dessa
natural pluralidade, é importante ressaltar a importância da coerência entre
religião/doutrina, suas transformações e apropriação por parte dos indivíduos.
Darei um exemplo dentro do cristianismo.
Jesus, no Novo Testamento, é um
indivíduo que ensina e vivencia uma profunda mensagem de amor, solidariedade,
respeito. Acolhia os excluídos e marginalizados, denunciava os religiosos
hipócritas e criticava as tradições que oprimiam. Após a morte de Jesus, seus
discípulos iniciaram um movimento de organização, sistematização e difusão de
seus ensinos. O cristianismo enquanto corrente religiosa nasce a partir disso.
Entretanto, ao longo dos séculos, indivíduos e grupos usaram essa mensagem que
é de amor, simplicidade, espontaneidade, para criar instituições que oprimiram,
violentaram, disputaram poder político e mesmo assassinaram. De um judeu pobre
que fugia da posse de qualquer privilégio, que andou entre pescadores,
prostitutas e doentes, criaram posições de mando, templos cheios de luxo e
inumeráveis regras.
Pastor Henrique Vieira é claro a
respeito dessa questão no movimento cristão:
É
impressionante como o cristianismo, uma espiritualidade de origem periférica e
popular, pautada na radicalidade do amor, foi se tornando justificativa para
sistemas opressores e práticas de ódio. Jesus andou com os pobres e oprimidos,
acolheu as pessoas amaldiçoadas e marginais, impediu processos de execução,
recusou mecanismos de vingança, exaltou o perdão como forma de mediação de
conflitos, reconheceu a dignidade até de seus inimigos. Jesus foi preso,
torturado e assassinado. Foi executado pelo Império Romano sob o aplauso e
escárnio de muitas pessoas. Enfim, foi um preso político, vítima da violência e
do ódio. Como uma mensagem com essa origem pode, em tantos momentos da
história, justificar atos de violência e genocídio? A lente fundamentalista se
apega à letra enquanto esfria corações diante da vida concreta.
Jesus foi
vítima desse modelo que colocava a Tradição (isto é, o conjunto de leis
bíblicas da época) como referência absoluta, inquestionável e impenetrável.”[8]
Por sua vez,
Chico Xavier e o Espírito Neio Lúcio, por meio da mediunidade, também dão outra
possibilidade de perspectiva para a questão:
- Sara, qual é o
serviço fundamental de tua casa?
- É a criação de
cabras – redarguiu a interpelada, curiosa.
- Como procedes
para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico?
- Senhor, antes
de qualquer providência, é imprescindível lavar, cautelosamente, o vaso em que
ele será depositado. Se qualquer detrito dicar na ânfora, em breve todo o leite
se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados.
Jesus sorriu e
explanou:
- Assim é a
revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o
conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades de nosso
íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos
recolher.[9]
O trecho acima obviamente está
permeado por uma dimensão literária e até mesmo teológica, mas a reflexão que
propõe é valiosa: o quanto as religiões e doutrinas sofrem de modificação
quando nos atravessam? O quanto nossos interesses pessoais, lacunas e
limitações influenciam nesse processo?
O fato é que a mensagem cristã foi
intensamente mutilada e mesmo completamente distorcida por muitos ao longo do
tempo. Uma coisa são interpretações diferentes acerca de passagens, ensinos,
recomendações, rituais – o que é natural em vista da diversidade humana. Outra
é transformar água em lama, amor em ódio, paz em violência, justiça em
exploração.
Pois bem, o Espiritismo, como todas
as religiões e doutrinas, não escapou às mutilações e distorções. E reforço que
não quero aqui defender uma ideia de pureza original perfeita. Não gosto dessa
ideia. O que advogo é sobre a necessidade de manutenção de coerência entre os
pontos chave de uma religião ou doutrina ao longo do tempo e de sua difusão por
pessoas e espaços.
Voltemos a Kardec. Em O Livro dos
Médiuns ou Guia dos médiuns e evocadores, vemos um autor buscando desmistificar
a mediunidade, explicando-a da forma mais simples e direta possível, com o
objetivo de auxiliar aqueles que têm a faculdade mediúnica a usá-la de forma
proveitosa para o auxílio aos outros ou para a pesquisa espírita. Kardec
naturaliza e humaniza a mediunidade, mas atualmente, em muitas instituições
espíritas, ela é encarada como algo excessivamente engessado, distante e
limitado. O acesso a mediunidade e à prática mediúnica é, em muitas situações,
vetado ou muito dificultado. É como um Espiritismo sem Espíritos.
Em O Livro dos Espíritos, encontramos
um Kardec que se permite filosofar, questionar e dialogar com os Espíritos a
respeito dos mais diversos temas, sem tabus ou medos. Na obra, são debatidas a
escravidão, a pena de morte, os direitos da mulher, o enriquecimento com base
na exploração, a fome e a má distribuição dos alimentos, desigualdades sociais,
liberdade de pensamento e religião, etc. Isso tudo em meados do século XIX, em
meio a França sob um governo de caráter autoritário. Mas no Brasil do século
XXI, discutir racismo, questões de gênero, desigualdades sociais ou outros assuntos
contemporâneos é visto em muitas instituições como erro grave, passível de
marginalização ou mesmo expulsão.
Em Viagem Espírita em 1862 e outras
viagens de Kardec e em O Livro dos Médiuns, observa-se uma perspectiva de grupo
ou instituição espírita como um ambiente de acolhimento, fraternidade,
respeito, vínculos, amor. Mas há muitos centros espíritas em que o indivíduo
não será acolhido, respeitado ou tratado com solidariedade. Se um negro, gay,
com o cabelo pintado de loiro e piercing for o palestrante da noite em um
centro espírita, qual seria a reação do auditório? Quantos indivíduos LGBT+ não
encontram espaço e nem respeito em instituições espíritas? Se um médium resolve
fazer tatuagens que preencham ambos os braços, como será encarado por seu grupo
de reunião?
Para além disso, percebo também
espíritas com alto grau de sofrimento psíquico vivenciado ao longo da vida pela
forma como os ensinaram e apresentaram o Espiritismo. Pessoas com muito medo,
culpa, insegurança, desencorajadas a questionar, estimuladas a sempre obedecer.
Indivíduos, por vezes, verdadeiramente traumatizados. Não é difícil encontrar
relatos de espíritas sobre experiências dolorosas vivenciadas no ambiente
espírita.
O fato é que podemos falar de um tipo
de fundamentalismo espírita que está presente no Brasil. Uma forma de se
apropriar, relacionar e difundir o Espiritismo que pode oprimir, violentar,
silenciar. Uma maneira de olhar arrogante, que enxerga o Espiritismo como algo
superior, hierarquicamente acima de outras religiões ou doutrinas, como um
saber que está além da ciência e da filosofia. Uma perspectiva autoritária, que
não admite ser questionada, criticada e que não se abre para um diálogo franco
e respeitoso com a diversidade e a sociedade.
A mente
fundamentalista não se permite duvidar do que crê e não aceita dialogar com as
diferenças.[10]
para um
fundamentalista não há diálogo. Se um fala em nome de Deus e o outro não, que
conversa é possível?[11]
Mas o grande
ponto do fundamentalismo é que ele produz uma visão que se percebe como verdade
absoluta. A mente fundamentalista tende a entrar em pânico diante de dúvidas e
questionamentos[12]
O fundamentalista
não dialoga, porque não se propõe a ouvir; não aprende, porque parte do
pressuposto de que só pode ensinar. O mundo fica dividido entre salvos e
perdidos, entre bem e mal, e a fronteira delimitada pelo conjunto de crenças da
instituição religiosa.[13]
o mais relevante
é submeter nossa doutrina à reflexão, à comunhão, ao exercício permanente da autocrítica
à luz das demandas e necessidades do nosso tempo.[14]
Espiritualidade
é abertura, fundamentalismo é fechamento. Espiritualidade se move nas
perguntas, fundamentalismo, em certezas irretocáveis. Espiritualidade é
experiência e contemplação, fundamentalismo é doutrina. Espiritualidade se move
no amor e na liberdade, fundamentalismo, na culpa e no medo. Espiritualidade
transita nas diferenças e percebe a diversidade como expressão sagrada,
fundamentalismo vê a diversidade como maldição. Portanto, a experiência
religiosa é saudável quando alimenta a espiritualidade sem sufocá-la.[15]
Há espíritas
que, infelizmente, por não encontrar ambiente saudável para acolhimento, escuta
e amparo, entram em depressão, adoecem.
Pessoas que
perderam algum familiar por meio do suicídio e ainda são violentados por um
terrorismo psicológico cruel que, ao invés de acolher e prestar compaixão e
solidariedade, gera medo e angústia.
Há espíritas
que, frente às enormes desigualdades sociais e a absurda quantidade de pessoas
desabrigadas e dormindo nas calçadas, justificam a si mesmas que está tudo
conforme a justiça divina, tratando-se de um processo de expiação que cumpre
àquele indivíduo passar e não há muito o que pode ser feito.
Há espíritas
que associam todo problema psíquico à obsessão e questões espirituais, quando
há muitos casos em que o tratamento precisa ser com um profissional da
Psiquiatria e com um Psicólogo.
Há jovens que
frequentam evangelização, mocidade e, depois de adultos, não retornam nunca
mais ao centro espírita pois ao ingressar na universidade, em movimentos
sociais ou ter acesso a outros saberes e experiências, identificam que o espaço
da instituição espírita não os comporta mais porque não os aceitará como são e
pensam, não lhes possibilitando mais espaço de atuação frutífera.
CONCLUSÃO
A questão é
que o Espiritismo não foi concebido para ser fechado, dogmático, frio,
autoritário. E se alguns o fizeram assim, ele não precisa ser assim. Há formas
acolhedoras, dialógicas, críticas, humanistas de se apropriar e relacionar com
o Espiritismo. Ele não precisa ser opressão, medo ou culpa, na verdade pode ser
libertação, impulso, leveza, suporte para nosso crescimento individual e mesmo
social.
O Espiritismo
tem, como principal contribuição intelectual, apresentar uma lente para
observação e análise da realidade. Um óculo composto pelas ideias de Espírito,
mediunidade, Deus, reencarnação e evolução. Olhar para a vida levando em conta
esses conceitos altera muitas conclusões, ações e mentalidades.
Do ponto de vista
moral, sua principal contribuição é o consolo e a esperança. Ao apontar e
demonstrar empiricamente que há um princípio de vida em nós que sobrevive à
morte do corpo físico, evidenciando que a vida não cessa, muitos de nós
adquirimos força para nos erguer e lutar perante as adversidades. Saber que
nossos amores continuam vivos ressuscita pessoas em vida. Conceber que a vida
material é extremamente importante e valiosa, mas que é apenas uma etapa da
nossa jornada, é como expandir horizontes.
Do ponto de vista
social, ele pode estimular nossa sensibilidade e compaixão, transformando-as em
reflexão e ação concretas para alterar o status quo, seja em escala micro,
média ou macro. Ao nos evidenciar o valor da vida e da encarnação, pode incutir
um senso de urgência para as mudanças que precisam ocorrer na coletividade para
que o nível de bem-estar coletivo seja cada vez maior, evitando sofrimentos
evitáveis. Ao apresentar as consequências espirituais de nossas ações, pode
despertar para um nível maior de responsabilidade e consciência perante os
outros.
Por fim, do
ponto de vista institucional, o movimento espírita não precisa ser algo
homogêneo e pasteurizado. Ele pode e não tem como deixar de ser diverso,
plural. A casa espírita precisa ser um grande espaço de sociabilidade, de
encontros, convivência. Atualmente, vejo nitidamente que a maior contribuição
que a casa espírita me proporcionou foi a convivência/sociabilidade. Conhecer
pessoas diferentes, com histórias diversas. Construir vínculos. Vivenciar
experiências por meio do trabalho voluntário. As conversas após as reuniões até
depois da meia noite na rua. Vidas encontrando outras vidas. Atravessar e ser
atravessado por outras trajetórias. Não podemos abrir mão dessa dimensão da
casa espírita como espaço de encontros - para muito além de doutrina ou estudo
somente. O próprio nome já diz: “casa espírita”. Antes de ser
"espírita", tem que ser "casa".
Por um
Espiritismo que seja liberdade e libertação, tanto na dimensão espiritual,
quanto na individual e na social. Por um Espiritismo que seja estimulador da
espiritualidade. Por um Espiritismo que alimente a espontaneidade, a
autenticidade e a humanidade. Por um Espiritismo que possa ser meio, ferramenta
de crescimento para aqueles que o conheçam. Por um Espiritismo leve, risonho e
alegre.
REFERÊNCIAS
KARDEC,
Allan. A Gênese [tradução de Guillon Ribeiro da 5a ed. francesa]. 53. ed. 1.
imp. Brasília: FEB, 2013.
KARDEC,
Allan. O Livro dos Espíritos: princípios da Doutrina Espírita [tradução de
Guillon Ribeiro]. 92. ed. 2. Reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2012.
KARDEC,
Allan. O Livro dos Médiuns, ou, guia dos médiuns e dos evocadores: Espiritismo
experimental [tradução de Guillon Ribeiro a partir da 49a edição francesa de
1861]. 81. ed. 1. imp. (Edição Histórica). Brasília: FEB, 2013.
KARDEC,
Allan. Revista Espírita – Jornal de Estudos Psicológicos 1866 [tradução de
Evandro Noleto Bezerra]. Brasília: Federação Espírita Brasileira.
KARDEC,
Allan. Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Allan Kardec [tradução de
Evandro Noleto Bezerra]. 1. ed. Rio de Janeiro: FEB, 2005.
XAVIER,
Francisco Cândido. Jesus no Lar. 37. ed. 8. imp. Brasília: FEB, 2014.
VIEIRA,
Henrique. O Amor como Revolução. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2019.
[1]
A abordagem que Kardec fez da questão racial – presente na Revista Espírita de
Abril de 1862 –, a questão 822 a) de O Livro dos Espíritos ou vários trechos do
livro A Gênese contém ideias e teorias que a ciência e o tempo provaram
extremamente equivocados. Ou seja, a obra kardequiana não é algo divino que
desceu puro dos céus. É, antes, a obra de um ser encarnado, com a participação
de muitos outros encarnados e desencarnados, todos esses em processo de
evolução e sob a influência de um tempo, espaço, cultura e sociedade.
[2]
Allan Kardec, na Revista Espírita de Julho de 1866, na página 299.
[3]
Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, item 343.
[4]
Allan Kardec, em A Gênese, item 55.
[5]
Allan Kardec, em Viagem Espírita em
1862 e outras viagens de Kardec, Discursos Pronunciados nas Reuniões Gerais dos
Espíritas de Lyon e Bordeaux, item 1.
[6]
Allan Kardec, em Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec, Discursos
Pronunciados nas Reuniões Gerais dos Espíritas de Lyon e Bordeaux, III parte.
[7]
Allan Kardec, em Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec, Discursos
Pronunciados nas Reuniões Gerais dos Espíritas de Lyon e Bordeaux, III parte.
[8]
Henrique Vieira, em O Amor como Revolução, p. 62.
[9]
Neio Lucio, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Jesus no Lar, capítulo
3.
[10]
Henrique Vieira, em O Amor Como Revolução, página 57.
[11]
Henrique Vieira, em O Amor Como Revolução, página 59.
[12]
Henrique Vieira, em O Amor Como Revolução, página 63.
[13]
Henrique Vieira, em O Amor Como Revolução, página 58.
[14]
Henrique Vieira, em O Amor Como Revolução, página 59.
[15]
Henrique Vieira, em O Amor Como Revolução, página 65.